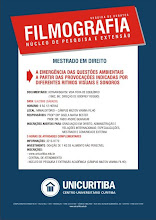Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: Sérgio Salomão Shecaira em profícuo diálogo com a Pós-Graduação do UNICURITIBA

Cartaz de divulgação do 2° Seminário de Nucleação e Solidariedade
Em 27/6/2008, das 19 às 23 horas, no Grande Auditório do Câmpus Milton Vianna Filho, do Centro Universitário Curitiba, o Mestrado da Instituição promoveu o 2° Seminário de Nucleação e Solidariedade entre Programas de Pós-Graduação stricto e lato sensu em Direito – USP e UNICURITIBA.
O evento foi organizado pelos Professores Gisela Maria Bester e Carlos Luiz Strapasson e viabilizado pela parceria entre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania – e lato sensu – Especialização em Direito Criminal.
Estiveram presentes alunos e professores da Instituição, além da comunidade acadêmica de cursos de Graduação e de Pós-Graduação externos, somando um público de aproximadamente 160 pessoas. A mesa foi dirigida pela Professora Gisela, Coordenadora do Mestrado, e contou com a presença dos Professores da Graduação e da Pós-Graduação Fábio André Guaragni e Rodrigo Regnier Chemim Guimarães, Promotores de Justiça no Estado do Paraná e Coordenadores do Curso de Especialização em Direito Criminal, do UNICURITIBA.
O Seminário teve como palestrante o Professor Doutor Sérgio Salomão Shecaira, titular da USP, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Ministério da Justiça), advogado criminal em São Paulo, pós-Doutor em Direito Penal pela USAL (Salamanca), doutor em Direito Penal pela USP, livre docente de Criminologia pela USP, membro do conselho editorial da Revue International du Droit Penal e da Academia Brasileira de Direito Criminal, professor da USP desde 1996, tendo sido presidente do IBCCRIM (1997-1998), vice-presidente do grupo brasileiro da AIDP e professor da UNESP (de 1988 a 1996). O Professor Shecaira também é autor dos livros: Prestação de serviços à comunidade, Pena e Constituição, Responsabilidade penal da pessoa jurídica, Teoria da pena, Penas restritivas de direito, Criminologia, Estudos de Direito Penal e Direito Penal juvenil (no prelo).
A professora Gisela explicou aos presentes o porquê de o evento intitular-se “Seminário de nucleação e de solidariedade”, devendo-se tal nomenclatura a uma diretriz da CAPES que incentiva o diálogo solidário entre programas de pós-graduação que tenham senioridade em pesquisa e formem doutores – caso da USP – e programas que sejam mais jovens e formem somente mestres, como é o caso do Mestrado do UNICURITIBA.

O palestrante Sérgio Salomão Shecaira.
 Os debatedores, professores Gisela Bester, Fábio Guaragni e Rodrigo Chemin
Os debatedores, professores Gisela Bester, Fábio Guaragni e Rodrigo Chemin
Mais de 150 pessoas acompanharam o evento no Grande Auditório
Confira abaixo a matéria completa sobre o evento
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: Sérgio Salomão Shecaira em profícuo diálogo com a Pós-Graduação do UNICURITIBA
O Professor Shecaira iniciou sua fala apresentando a situação do problema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, citando o posicionamento de autores que se opõem à responsabilização penal das pessoas coletivas, tais como Luis Regis Prado e René Ariel Dotti.
Explicou, ainda, que em tempos de globalização o tema assume grande valor, além de ser polêmico e controverso. O continente que mais avançou no processo globalizador foi a Europa, e o advento da União Européia, em um rápido processo de 20 anos, fez com que aquele continente se integralizasse, tornando-se um continente sem fronteiras, o que gerou a necessidade de uma série de adaptações legislativas. No entanto, restou um último bastão jurídico, uma área refratária a essa evolução extremamente rápida: o Direito Penal. Este permaneceu como a última esfera a ser modificada pelo novo contexto, mantendo-se ainda como direito dos países – e não direito europeu.
Para a compreensão dessa situação o Professor Shecaira explicou a hierarquia das normas na União Européia, encabeçada pela Constituição Européia, à qual se submetem as normativas, que possuem força cogente – caso descumpridas podem resultar na retirada dos países da organização internacional –, e as diretivas, que consistem em recomendações. Entre as normativas, identificou a única norma geral presente na legislação da União Européia que prevê a responsabilização da pessoa jurídica, o que demonstra quão candente e problemático é o tema fortemente resistivo, e em constante evolução, da responsabilização penal coletiva. Precisamente nos artigos 5° e 6° da normativa 667, de 12/7/2005, encontra-se a seguinte disposição:
Decisão-quadro 2005/667/JAI do Conselho, de 12 de julho de 2005,
destinada a reforçar o quadro penal para a repressão da poluição por navios:
[...]
Artigo 5º
Responsabilidade das pessoas colectivas
1. Cada Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para garantir que as pessoas
colectivas possam ser consideradas responsáveis pelas infracções referidas nos
artigos 2º e 3º cometidas em seu proveito por outrem, agindo individualmente ou
como membro de um órgão da pessoa colectiva, que nesta tenha uma posição de
autoridade na pessoa colectiva, com base nos seguintes elementos:
[...]
Artigo 6º
Sanções aplicáveis a pessoas colectivas
1. Cada Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para garantir que as pessoas
colectivas consideradas responsáveis nos termos do nº 1 do artigo 5º sejam
puníveis com sanções efectivas, proporcionadas e dissuasivas. As sanções:
[...].
Na seqüência, o Professor Shecaira referiu-se ao XV Congresso da Associação Internacional de Direito Penal, ocorrido no Rio de Janeiro em 1994, ressaltando que se tratou de momento de intensas discussões sobre a responsabilização penal corporativa. Também foi rememorada por ele a centralidade, na orientação dos debates, da Constituição Federal de 1988, o que permanece válido nesses 20 anos desde a promulgação, especialmente nos 10 anos seguintes à publicação de lei ambiental que instituiu a responsabilidade penal das pessoas jurídicas – Lei nº 9605/1998.
Ainda, preliminarmente, o Professor destacou a diferença de terminologia usada pela literatura especializada ao se referir às corporações, conforme o país de discussão do tema, de forma que os autores portugueses tendem a usar a expressão entidades coletivas, enquanto os franceses valem-se de pessoas morais e os ingleses utilizam o termo corporation. É relevante destacar que a teoria apresentada se estende a todas as pessoas jurídicas de direito privado, incluindo-se as entidades paraestatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) e excluindo-se as pessoas jurídicas de direito público. Na palestra foi especialmente abordada a responsabilização das grandes empresas ou corporações no cometimento de delitos econômicos ou ambientais.
Segundo o Professor Shecaira, o tema da responsabilização penal das pessoas coletivas é antiqüíssimo, como demonstrou na seqüência de sua fala, ao realizar o resgate histórico do tema. Um exemplo enfatizado logo nesse momento inicial foi o dos estudos do jurista brasileiro e constituinte em 1987, Affonso Arinos de Mello Franco (1905-1990), que já tratara do tema em obra publicada em 1930, intitulada “A Responsabilidade Criminal de Pessoas Jurídicas”. Todavia, a repercussão da responsabilidade penal coletiva, em matéria constitucional, somente se daria no Brasil com a Constituinte de 1987, que produziu, entre outros dispositivos, a redação do artigo 225, § 3° da Constituição de 1988, em peso com a relatoria do deputado Fábio Feldmann, no Título do Meio Ambiente, com o adjacente teor:
Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]
§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (grifo nosso)
Essa previsão constitucional, disse o Professor Shecaira, interpretada segundo o entendimento de um dos maiores juristas argentinos contemporâneos e que é pró-responsabilização – David Baigún –, instauraria um sistema de dupla imputação, ou seja, respondem penalmente pelos danos tanto a pessoa jurídica quanto as pessoas físicas que compõem a empresa, o que permite a persecução criminal paralela. E mais, isso sem se anularem as sanções nas esferas extrapenais (civis e administrativas), caso haja essa necessidade. Além desse artigo, outro relevante dispositivo constitucional que trata do assunto, e que atualmente ainda carece de regulamentação infraconstitucional, é o seguinte, desta vez, no Título da Ordem Econômica e Financeira:
Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 5º – A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.
Conforme o Professor Shecaira, em seu livro Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas (1998, p. 149), “o emprego de todos os métodos de interpretação constitucional, tais como o literal, o teleológico e o evolutivo, levam à conclusão de que há previsões constitucionais evidentes e manifestas, que autorizam a responsabilização penal coletiva, pois excetuam a regra da responsabilização individual”. Isto é reconhecido por constitucionalistas como Walter Claudius Rothenburg e José Afonso da Silva. Assim, “[...] as modificações constitucionais não aconteceram na regra geral (que continua a ser a responsabilidade pessoal), mas em tópicos excepcionais, em que o poderio das empresas tornou-se incontrolável com os instrumentos tradicionais de direito penal”. (SHECAIRA, 1998, p. 121). Além disso, imprescindível ter em mente os critérios finalísticos, pessoais e circunstanciais para se determinar a responsabilização coletiva. Desta maneira, a infração deverá ter sido praticada no interesse da pessoa coletiva, situar-se na esfera de atividade da empresa, ter sido cometida por pessoa estritamente ligada à pessoa coletiva e a infração deverá ter recebido, para sua materialização, auxílio do poderio da pessoa coletiva, sem o qual não seria possível produzir o resultado. (SHECAIRA, 1998, p. 148)
Situado o problema, o Professor Shecaira realizou um sumário de sua fala subseqüente, que consistiria na explanação do histórico da responsabilidade coletiva, seguido pelo rol dos países que, contemporaneamente, aderem à teoria, assim como pela nomeação dos países refratários e os motivos para cada posicionamento. Ainda contra-argumentou as objeções feitas à responsabilização das pessoas jurídicas, apresentando o porquê de seus entendimentos justificantes das razões de política criminal e de Direito Penal que possibilitam a adoção da responsabilidade penal coletiva no ordenamento jurídico brasileiro.
Enquanto panorama histórico da responsabilização coletiva, Shecaira delimitou, basicamente, três momentos. Um período compreendido desde a Antigüidade até a Revolução Francesa, em que se adotava a responsabilização coletiva. Um segundo momento, nos moldes revolucionários, em que a punição passou a ser individualizada, e, após o período da Primeira Guerra Mundial, do entre-guerras e da Segunda Guerra Mundial, quando se teve a retomada da adoção de mecanismos de responsabilização penal coletiva quanto aos crimes econômicos e ambientais.
Dessa forma, em regra, na Antigüidade adotava-se a responsabilização coletiva, objetiva e difusa, fosse dos clãs, das grandes famílias ou mesmo de cidades inteiras, por qualquer ato delituoso praticado, ainda que por apenas um sujeito, visto que o agente era entendido como indestacável do grupo ao qual pertencia, o que revela o caráter eminentemente preventivo, de intensa proteção do grupo social. Exemplos fortes dos castigos coletivos eram aqueles presentes nas regulamentações de antigos documentos normativos das sociedades como, por exemplo, o Código de Hammurabi (§ 23), o Código de Manu, as prescrições do Direito Hebreu e da Bíblia. O mesmo argumento vale para o Direito Canônico e para o Direito Medieval, assim como para as disposições do Corão. Nesse momento da exposição, o Professor Shecaira fez referência a um artigo de René Ariel Dotti, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, em que Dotti analisa a sentença de Tiradentes, que na esteira das ordenações do reino pode ser usado como exemplo de responsabilização coletiva.
Segundo Shecaira, a noção de indivíduo e a reivindicação da responsabilidade individual nasceram no período revolucionário francês, sob a pauta da filosofia iluminista, tempo em que os votos deixaram de ser por estados, passando a ser individuais. A burguesia revolucionária defendia a personalidade das penas, o que significa que estas não poderiam passar da pessoa do condenado. Portanto, na história humana, recente é a responsabilização individual.
Além disso, se em linhas gerais, antes da Revolução Industrial, as grandes ameaças às sociedades advinham de causas naturais, como, por exemplo, catástrofes e epidemias, após as mudanças provocadas pela industrialização, acrescidas de explosões demográficas, crescimento de centros urbanos e aperfeiçoamento tecnológico em múltiplas ciências, teve-se na máquina, produto da técnica, um elemento potencializador dos perigos. Segundo Shecaira, é aí que
a empresa, como pólo agregador de interesses, passa a ser, em algumas circunstâncias e dentro de determinados contextos, o centro de atenção da cena criminal. [...] A empresa é, assim, um dos nódulos essenciais do modo de ser das comunidades das atuais sociedades pós-industriais. Ela não é lugar onde ou por onde a criminalidade econômica se desencadeia; é, sim, o topos de onde a criminalidade econômica pode advir. Portanto, tal concepção das coisas leva a que a empresa possa apresentar-se como um verdadeiro centro gerador de imputação penal (SHECAIRA, 1998, p. 19).
A perspectiva individualista viria a ser modificada no período entre-guerras e após a Segunda Guerra Mundial, momentos históricos em que se passou a adotar, em alguns ordenamentos jurídicos, a responsabilização coletiva, com destaque merecido, entre outros acontecimentos, às recomendações do II Congresso da Associação Internacional de Direito Penal, realizado em Bucareste (Romênia), em 1929. Neste Congresso, tendo-se constatados o crescimento das pessoas jurídicas e seu impacto social, além do risco que poderiam representar caso violassem o ordenamento jurídico vigente, votou-se pelo estabelecimento de medidas de defesa social contra tais pessoas, inclusive na esfera penal. A imputação penal, além de ser um meio de defesa social, não exclui a responsabilidade individual dos administradores e dirigentes que tenham cometido delitos por meios proporcionados pela pessoa jurídica. Porém esta assunção da responsabilidade coletiva foi em parte prejudicada pelo crescimento do poderio das grandes corporações.
Outro momento proeminente do início do século XX para a discussão foi o crack da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, marco em torno do qual gravitaram estudos relevantes sobre a ilicitude e o crime econômico praticado pelas empresas. Por meio de pesquisas científicas, notadamente as do sociólogo americano Edwin Hardin Sutherland, constatou-se que, entre 1924 e 1949, das 70 maiores empresas estadunidenses, 69 tinham cometido crimes após a quebra da Bolsa, pois tais pessoas jurídicas passaram então a ter determinadas necessidades, que as levaram às práticas de delitos.
Considerando-se que as empresas, em grande medida, eram as maiores violadoras das normas estatais, também contribuiu para a responsabilização penal das pessoas jurídicas o plano de reformas do New Deal, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, na década de 30. Sob a influência das idéias do economista inglês John Maynard Keynes, proporcionou-se a moderação do capitalismo ultraliberal, passando-se a um capitalismo com abertura da intervenção estatal, impondo-se limites na economia, o que ajudou a consagrar a responsabilização coletiva nos países que adotam o sistema da Common Law, principalmente Estados Unidos e Inglaterra e colônias.
Por sua vez, os países que viriam a formar a União Européia organizaram-se em diversas reuniões de representantes para a discussão do tema. Destaca-se a recomendação n° 81-12, do Comitê dos Ministros da Europa, de 25 de junho de 1981, que fomentou a intervenção estatal nos casos de infrações econômicas. O Professor ressaltou, novamente, a relevância do XV Congresso Internacional de Direito Penal, realizado no Rio de Janeiro em 1994, momento em que houve a aprovação, pela maioria da comunidade jurídica internacional, de recomendações corroborantes da responsabilização coletiva em caso de danos ambientais. Assim, além do acolhimento dos princípios da prevenção e da precaução enquanto medidas acautelatórias, recomendou-se que, por meio dos juízos de adaptabilidade de medidas sancionadoras, de acordo com as possibilidades de cada ordenamento, se realizasse a persecução criminal das pessoas jurídicas infratoras, em casos de ações omissivas e comissivas.
Atualmente, o quadro internacional apresenta três sistemas em que se agrupam países conforme se posicionam quanto à responsabilização: refratários (maior parte dos países da Europa continental), intermediários (Alemanha) e os que a adotam (países da Common Law com progressiva adesão de países da Civil Law). Dos refratários, o Professor Shecaira destacou a Espanha (embora os doutrinadores tendam à aceitação), a Itália e a Bélgica, em que se prevêem sanções no âmbito extra-penal, ou seja, imputa-se civil ou administrativamente. No caso da Alemanha, exemplo de sistema intermediário, as sanções são impostas via Direito Penal administrativo, também chamado de contravenção à ordem, pois neste país as pessoas coletivas não sofrem sanções penais, e sim multas administrativas, menos graves - pois não é feita reprovação ético-social da coletividade e as multas são valorativamente neutras. Já dentre os países que adotam a responsabilização coletiva foram destacados Estados Unidos, Inglaterra, Japão e China. Além destes, Holanda, Portugal e França, que realizaram mudanças em leis ordinárias, excetuando a responsabilização individual, podendo-se incluir nesse rol o Brasil.
No direito brasileiro, além dos expressos fundamentos constitucionais, no plano infraconstitucional tem-se a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que no artigo 3º preceitua:
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Este dispositivo revela tanto a adoção do sistema de dupla imputação quanto consagra a teoria da co-autoria necessária entre o agente individual e a coletividade, em conformidade à teoria do domínio do fato, sendo que no artigo 4°, da mesma lei, foi aceita a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, como modo de se evitar a impunidade (SHECAIRA, 1998, p. 127). Enquanto modalidades de pena, têm-se as de multa (calculada via critérios do Código Penal e cujo valor reverter-se-á ao Fundo Nacional do Meio Ambiente), penas restritivas de direito (rigorosas penas de até 10 anos que implicam suspensão total ou parcial de atividades, interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade, impedimento de relações contratuais com o Poder Público) e a prestação de serviços à comunidade (custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, e contribuições a entidades ambientais e culturais públicas) (SHECAIRA, 1998, p. 127-128).
De um modo geral, a punição das pessoas jurídicas visa assegurar o ambiente, os direitos do consumidor e as relações decorrentes da ordem econômica e financeira como legítimos bens de tutela penal, sempre entendidos sob a pauta da intervenção mínima, a subsidiariedade e a fragmentariedade do Direito Penal, uma vez que
[...] só a punição penal dos autores individuais, em crimes que atinjam aqueles bens jurídicos, seria insuficiente para a prevenção do delito, o que demanda a extensão do conceito de autor à pessoa jurídica. Esse pensamento decorre do reconhecimento da necessidade de uma atuação mais efetiva e enérgica, em face da potencialidade causal de dano ou de perigo, quando o crime é praticado ancorado na estrutura de uma poderosa empresa. Esse poderio traz uma possibilidade de causação de um delito substancialmente superior, que não pode ser obstada com o simples reconhecimento dos bens jurídicos no plano individual (SHECAIRA, 1998,
p. 134).
A tipicidade se estrutura por uma ação institucional ou de natureza social, culposa ou dolosa, cujo resultado delitivo é alcançado de forma omissiva ou comissiva. Tem-se a predominância de tipos pluriofensivos, vez que são variados os bens tutelados, assim como os tipos de perigo concreto (requer-se prova do perigo) – os quais são preferíveis aos tipos de perigo abstrato (não recomendáveis, pois instalam presunções de perigo e de culpabilidade). Ainda, é possível a utilização de tipos abertos, normas penais em branco e tipos penais subsidiários de normas administrativas, porém deve-se ter a cautela de não ferir o princípio da legalidade por excessiva e imponderada indeterminação (SHECAIRA, 1998, p. 141). Assim:
[...] deve-se ter em conta a segurança de todos (empresas e cidadãos), mas sempre destacando-se que há necessidade da adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica, secundada por outros instrumentos já conhecidos e tradicionais do direito penal, como as normas em branco e delitos de perigo (concretamente considerados). Essas medidas de caráter preventivo, e com maior potencial punitivo, constituem-se em alternativas especiais de controle de certo tipo de criminalidade (econômica e ecológica). Usadas com a devida parcimônia [e dentro das especificidades discutidas] [...] constituir-se-ão em medidas profícuas de política criminal, não apresentando, em nosso entender, qualquer ameaça ao espírito hoje imperante do Direito Penal mínimo, característico do Estado Democrático de Direito (SHECAIRA, 1998, p. 142).
Em tal contexto Shecaira retomou a importância de se ter clara a idéia de responsabilidade social da empresa como um modo de redimensionar a culpabilidade das pessoas jurídicas, citando o Recurso Especial n° 564.960 – SC, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, que afirmou, no tópico VI: “a culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito”. Afinal, “[...] por princípio, a responsabilidade da pessoa jurídica está vinculada à sua relevância social e econômica no processo decisório do delito, o que determina sua posição de autora necessária, e não um papel subalterno de co-autoria ou participação” (SHECAIRA, 1998, p. 130).
A reserva ou objeção à responsabilidade coletiva possui diversos argumentos de fundamentação, das seguintes naturezas: haveria o indevido prejuízo gerado às pessoas físicas que compõem a sociedade e que foram voto vencido na decisão que ocasionou o dano; as pessoas jurídicas não se arrependem; não há culpa coletiva; poderia se recorrer, para sanção, às esferas civil e administrativa; além das considerações de Direito Penal mínimo e das objeções às penas privativas de liberdade.
A cada um desses argumentos Shecaira ofereceu um contra-argumento. Assim, a punição das pessoas jurídicas produz conseqüências às pessoas físicas que compõem a sociedade, eis que de fato os sócios minoritários serão responsabilizados, mesmo se não tiverem votado pelo cometimento do ato. Neste caso, todavia, deve-se considerar que nos ilícitos civis e administrativos, da mesma forma, a responsabilidade recai sobre todos, inclusive os minoritários, de modo que tal objeção presente na esfera penal já ocorre na civil e na administrativa, e a solução possível para tanto é o direito de regresso dos minoritários aos majoritários. Desta forma, para esse tipo de impasse já existe, dentro do sistema jurídico, solução possível.
As penas privativas de liberdade seriam inaplicáveis às pessoas jurídicas? Sim, respondeu o Professor Shecaira. Afinal, não há prisão física de uma empresa. Mas, em contrapartida (questionou ironicamente), há empresários presos por crimes econômicos ou ambientais? O Direito Penal pune pessoas físicas nos casos de crimes econômicos?
Ao argumento de as pessoas jurídicas serem incapazes de arrependimento, esclareceu o Professor Shecaira que o objetivo do Direito Penal não é alcançar o arrependimento da pessoa. Ou seja, o Direito Penal moderno não é moral, tal qual foi o Direito Canônico, cuja finalidade era o arrependimento do agente por meio das penitências e reflexões realizadas no recolhimento da cela. O objetivo do Direito Penal contemporâneo deve ser guiado pelas previsões de penas de relevância pública, juntando a prevenção geral ao fomento pelo cumprimento das normas. “O cumprimento das normas é fundamental à existência humana”, ressaltou em sua fala. Deve-se refletir, afinal, se o Direito Penal das empresas, o Direito Econômico e o Direito Ambiental foram ou não construídos segundo uma política de punição efetiva, e em que medida essa construção desautoriza o sistema de direito.
A política criminal oferece as razões para punir em determinado ordenamento. Isso faz com que, atualmente, se tenha um grande câmbio na perspectiva dogmática tradicional para se punir as pessoas jurídicas. Nesse sentido, não se pode olvidar o caráter simbólico do Direito Penal. Não se trata de defender um Direito Penal simbólico – elevar a classificação de crimes hediondos, por exemplo, que somente acarreta a desautorização do Direito Penal –, mas sim de assumir a repercussão que um processo criminal tem na mentalidade coletiva sobre noções de honestidade e inocência, o que confere ao Direito Penal um poder preventivo único.
O processo e a sanção penais são mais aflitivos, pois a reprovação ética característica da multa penal é o grande diferencial em relação a uma multa de outra natureza. O comportamento penalmente sancionado se reflete na imagem da pessoa jurídica, enquanto que em sanções de outra natureza há a brecha de impunidade quando “[...] o montante da indenização será, em regra, inferior ao ganho que a empresa obteve através da infração” (SHECAIRA, 1998, p. 104).
As normas técnicas ISO 9000, por exemplo, possibilitam que as empresas se diferenciem umas das outras por seu grau de responsabilidade social. Isso possibilita, entre outros fatores, que a comunidade veja a empresa não como idéia ou abstração ficcional, segundo previa a teoria de Friedrich Karl von Savigny, mas enquanto um plus, uma nova personalidade que pratica atos lícitos e pode, eventualmente, praticar atos ilícitos, a serem reprovados pelo Direito Penal. Essa percepção da comunidade afina-se com o entendimento da personalidade segundo os moldes da teoria da realidade objetiva, de autoria do jurista alemão Otto Friedrich von Gierke, em que as empresas são equiparadas aos indivíduos, podendo, portanto, cometer delitos e ser, por isso, responsabilizadas penalmente.
Dessa forma, essa nova personalidade, que pode praticar atos ilícitos, deve recobrir-se de culpabilidade em outro sentido – diferente da culpabilidade no sentido ético e humano –, pautada por critérios de responsabilidade social, como foi referido anteriormente. Afinal, se a culpa individual, de raízes éticas, origina-se de ações humanas individuais, tem-se que a culpa coletiva, originada por ações delituosas institucionais, advém da vontade, porém compreendida e reconhecível em plano pragmático-sociológico. (SHECAIRA, 1998, p. 148) Para aprofundamentos na questão filosófica da culpa em sentido ético, o Professor Shecaira recomendou a leitura da obra de José Figueiredo Dias, intitulada Liberdade, culpa e Direito Penal. No caso das pessoas jurídicas não há culpa, consciência ou vontade no sentido, por mais que se adote a teoria da realidade objetiva. A culpa consiste em responsabilidade individual, para quem, consciente do fato delituoso, podia e devia evitar a produção do resultado. A culpabilidade individual é empiricamente indemonstrável; não há como se demonstrar o poder agir de outro modo, o que coloca o problema de como decidir pela culpa de alguém. Essa noção dificulta-se sobremaneira com a teoria do inconsciente de Freud e a dos arquétipos e inconsciente coletivo de Jung, quanto mais na aferição de uma culpa coletiva.
Como exemplo desse problema engendrado, o Professor Shecaira fez referência ao caso do “ônibus 174”, ocorrido em 2000 no Rio de Janeiro. Exemplo clássico do nefasto Estado enquanto ponta meramente repressora, tanto no fato em si quanto aos elementos sociológicos envolvidos: não bastasse o jovem Sandro Barbosa do Nascimento ser um dos sobreviventes da chacina da Candelária, toda a conjuntura da sua vida constituiu o exemplo de um criminoso cuja condição foi formada pelo próprio contexto social. Uma negação completa da dialética essencial entre os caracteres “Democrático” e “de Direito” que o Estado deve possuir, conforme José Joaquim Gomes Canotilho. Em um contexto extremo desses, como avaliar a consciência e a culpa, determinar o que são atos vis? O Estado, na figura do juiz, teria capacidade de se subsumir à condição da pessoa, se colocar na situação do outro, para tentar entendê-lo, considerando-se as tantas diferenças sociais? Esses questionamentos podem ser reforçados tendo-se em vista o pensamento do autor, que afirma:
Se modernidade se coaduna com uma sociedade aberta e democrática, que é produto de um novo modelo de racionalidade aberta ao debate e à crítica, consagrado na síntese constitucional do Estado Democrático de Direito, as mudanças jurídicas decorrentes dessa transformação social não podem passar ao largo dessa discussão (SHECAIRA, 1998, p. 18).
Concluindo a palestra, uma verdadeira aula, o Professor Shecaira afirmou que se precisamos de punição, visto que é uma necessidade de controle social, deve-se reduzi-la ao mínimo. Recomendou a consciência de se evitar a avalanche criminalizadora, de se repensar o sistema punitivo e de se enfatizarem os riscos aos quais os bens jurídicos coletivos, supra-individuais e trans-individuais, estão submetidos, principalmente nas práticas de crimes econômicos e ambientais. Além disso, ressaltou que a responsabilização coletiva não é admitida de forma absoluta, devendo-se adotar a prudência e os padrões de proporcionalidade na avaliação de seus usos, assim como na consideração das adaptações a serem realizadas nas legislações específicas. Afinal, em jogo estão a higidez do Estado e a sobrevivência da humanidade, buscando-se entender o Direito Penal como preservacionista, que, em seu entender,
[...] ratifica a necessidade de se manter a presunção de inocência, a responsabilidade individual em face de culpa, a limitação da utilização de tipos penais abertos, dos tipos de perigo e de normas penais em branco, o princípio do contraditório e da ampla defesa assegurado aos réus, e muitos outros instrumentos característicos do Direito Penal garantidor, que alguns autores se propõe até excepcionar. Por outro lado, mecanismos efetivadores de prevenção – como a responsabilização da pessoa jurídica – e utilização de recursos já oferecidos pelo Direito Penal tradicional – como a utilização parcimoniosa de tipos de perigo concreto, normas penais em branco, tipos penais subsidiários de normas administrativas, etc., ensejadores de aumento de proteção àqueles preciosos bens jurídicos – podem ser a alternativa viável para assegurar princípios tão caros ao Estado Democrático de Direito e, também, permitir uma maior proteção resultante dessa política criminal. Nesse contexto, a responsabilização da pessoa jurídica, por paradoxal que possa parecer, traduz-se em uma política criminal garantidora e preservacionista – aos agentes individuais de delitos – de valores iniciados com o movimento iluminista e ratificados com a consagração do conceito de democracia material, inerente aos Estados Democráticos de Direito (SHECAIRA, 1998, p. 137).
Após a palestra seguiu-se um profundo debate com os professores da Instituição, mediado pela professora Gisela, com destaque às falas de Fábio André Guaragni, Fabio da Silva Bozza, Eduardo Sanz de Oliveira e Silva e do mestre pelo UNICURITIBA Fabiano da Rosa.
(BESTER, Gisela Maria; VENTURI, Eliseu Raphael. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: Sérgio Salomão Shecaira em profícuo diálogo com a Pós-Graduação do UNICURITIBA. Curitiba: 2008. Disponível em: <
http://www.unicuritiba.edu.br/webmkt/mestrado>.)
Mais informações em:
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Empresarial e Cidadania, do UNICURITIBA. Disponível em: <
http://www.unicuritiba.edu.br/webmkt/mestrado/>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Criminal do UNICURITIBA. Disponível em: <http://www.unicuritiba.edu.br/webmkt/pos/index.php?area=2>. Acesso em: 15 jul. 2008. Currículo Lattes do Doutor Sérgio Salomão Shecaira. Disponível em: <http://sistemas.usp.br/atena/atnCurriculoLattesMostrar?codpes=1814542>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Página do Doutor Sérgio Salomão Shecaira no sítio da Faculdade de Direito da USP. Disponível em: <http://www.direito.usp.br/docentes/penal/dpn_docentes_sergio_shecaira_01.php>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Associação Internacional de Direito Penal. Disponível em: <http://www.aidpbrasil.org.br>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Fragmentos de um discurso sedicioso; discurso proferido pelo Professor Nilo Batista na abertura do XV Congresso Internacional da AIDP.
Disponível em: <http://www.aidpbrasil.org.br/Discurso%20Nilo%20Batista.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Biografia de Affonso Arinos no Portal da Câmara dos Deputados – Parlamentares Constituintes.
Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/constituicao20anos/parlamentaresconstituintes/parlamentaresconstituintes/bioconstituintes.html?pk=122096>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Biografia de Fábio Feldmann no Portal da Câmara dos Deputados – Parlamentares Constituintes. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/constituicao20anos/parlamentaresconstituintes/parlamentaresconstituintes/bioconstituintes.html?pk=101343>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Edward Hardin Sutherland, na American Sociological Association. Disponível em: <http://www.asanet.org/page.ww?name=Edwin+H.+Sutherland§ion=Presidents>. Acesso em: 15 jul. 2008.
Referências
Decisão-quadro 2005/667/JAI do Conselho, de 12 de Julho de 2005, destinada a reforçar o quadro penal para a repressão da poluição por navios. Jornal Oficial nº L 255 de 30/09/2005 p. 0164 – 0167.
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0667:PT:NOT>. Acesso em: 15 jul. 2008.
DIAS, Jorge de Figueiredo. Liberdade, culpa, direito penal. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1995.
FRANCO, Affonso Arinos de Mello. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Graph Ipiranga, 1930.
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 15 jul. 2008.
RECURSO ESPECIAL Nº 564.960-SC (2003⁄0107368-4) RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.
Disponível em: <
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200301073684&pv=010000000000&tp=51>. Acesso em: 15 jul. 2008.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. De acordo com a Lei 9.605/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
Como citar esta matéria
BESTER, Gisela Maria; VENTURI, Eliseu Raphael. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: Sérgio Salomão Shecaira em profícuo diálogo com a Pós-Graduação do UNICURITIBA. Curitiba: 2008. Disponível em: <
http://www.unicuritiba.edu.br/webmkt/mestrado>.